Nos últimos dois anos, surgiram no Brasil vários tokens de recebíveis e de renda fixa, apresentados como opções de diversificação de investimentos em um cenário de juros crescentes. Por meio desses ativos virtuais, é possível investir diretamente em direitos creditórios diversos, tais como duplicatas, precatórios, cotas contempladas de consórcios, recebíveis de arranjos de pagamentos e outros. Dada a diversidade de títulos disponíveis, a dificuldade de aferir o risco de crédito pelo público em geral e, sobretudo, a complexidade da formalização adequada para evitar fraudes, a negociação de direitos creditórios é atualmente restrita a um nicho de mercado.
“Tokenizar”, nesse contexto, nada mais é do que registrar a propriedade e o histórico de transações de títulos em uma rede descentralizada, compartilhada por múltiplos participantes que têm visibilidade sobre a existência, características e exigibilidade dos títulos negociados. Seria uma espécie de “cartório na nuvem” com um procedimento, ao menos em teoria, menos oneroso para a emissão e negociação desses títulos. No mundo analógico, quando os títulos de crédito eram cartulares, o controle da propriedade se dava pela mera posse do documento. Com a digitalização, tornou-se imprescindível garantir a segurança jurídica e tecnológica nos
serviços de escrituração, custódia e depósito.
Além de propiciar uma infraestrutura potencialmente mais transparente, eficiente e segura para o registro da propriedade de ativos usualmente inacessíveis e de difícil circulação, a tokenização permite a pulverização do risco pelo fracionamento dos valores, criando a oportunidade de investimentos de dezenas ou centenas de reais, mais inseridos na realidade da maioria da população brasileira.
Diante desse quadro, surge um dilema: como assegurar que a parcela mais vulnerável da população (em termos econômicos e informacionais) não seja exposta a créditos podres? Se, nas mãos de gestores inescrupulosos, fundos de pensão com patrimônio bilionário foram vítimas de títulos sem lastro ou fraudulentos, deve haver algum mecanismo de proteção aos investidores de varejo na aquisição de direitos creditórios? Em uma perspectiva mais intervencionista (ou, para alguns, paternalista), será que essa alternativa de investimento deveria sequer ser acessível ao público em geral?
A regulação financeira costuma adotar o mecanismo de atribuição de responsabilidade pela “curadoria” de informações sobre investimentos a certos participantes denominados de gatekeepers. Auditores independentes garantem que as demonstrações financeiras de uma companhia estão livre de distorções relevantes. Analistas de valores mobiliários examinam as companhias para elaborar relatórios fundamentados capazes de subsidiar a tomada de decisão pelos investidores. Gestores de recursos e administradores fiduciários resguardam os interesses de cotistas de fundos de investimento. Consultores e assessores, por sua vez,
auxiliam os investidores a navegar pelo tempestuoso mar de informações sobre ativos, considerando seu apetite por risco e metas individualizadas. Intermediários devem atuar para garantir ambientes íntegros de negociação e, em processo de oferta pública, auxiliar na prestação de informações e formação de preços na distribuição. Ainda, agências de classificação de risco diligenciam para sinalizar os riscos associados a determinado emissor de valores mobiliários.
Desse modo, todas as atividades reguladas pela CVM possuem um conjunto de normas de conduta, deveres e responsabilidades para garantir que o interesse dos investidores seja colocado em primeiro lugar. Se “na prática, a teoria é outra”, esse é um tema para outra ocasião.
Nesse contexto, a CVM editou recentemente um Ofício Circular esclarecendo que os tokens de renda fixa muito provavelmente são valores mobiliários, porque a estrutura da sua emissão se assemelha à de certificados de recebíveis ou, então, os esforços de seleção, avaliação e execução dos recebíveis que lastreiam esses tokens fazem com que, na prática, estejamos diante de contratos de investimento coletivo, posto que a expectativa de benefício econômico decorre do esforço de outro que não o investidor. Por isso, essas operações não poderiam ocorrer sem registro prévio de oferta pública.
A intenção da CVM é clara: estabelecer um participante de mercado como gatekeeper das informações sobre os direitos que lastreiam os tokens emitidos. Contudo, surge um problema prático: em alguns projetos, os tokens representam frações de um só título e não uma comunhão de direitos creditórios. Assim, sua emissão se distancia daquela que envolve certificados de recebíveis (CR) ou cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), pois, normalmente, esses valores mobiliários representam uma pluralidade de títulos.
Há, assim, uma diferença de cardinalidade: de um lado, para um título, pode haver um ou mais tokens e, de outro, um valor mobiliário (cota de FIDC ou CR) é um conjunto de múltiplos títulos. No primeiro caso, um título é o numerador de uma fração. No segundo caso, está no denominador.
Para além do jogo de palavras, a dificuldade prática está no fato de que não faz sentido considerar uma “oferta pública” de tokens de renda fixa – no sentido de um processo de formação de preços, divulgação de informações e período de subscrição – quando se busca, em essência, um marketplace de recebíveis, muitos deles de prazo bastante curto (caso de duplicatas). Logo, não faz sentido tratar essas operações nem como captações via crowdfunding (Resolução CVM nº 88/2022) nem como ofertas de recebíveis (Resolução CVM nº 60/2021).
Outra perplexidade que decorre do entendimento da CVM é a assimetria no tratamento de plataformas que oferecem negociação de direitos creditórios, mas que não o fazem por meio de tokens. Se o que vale é a essência econômica da operação, não pode haver um peso e duas medidas.
Nessas hipóteses, o modelo de negócios da tokenizadora aproxima-se muito mais de uma sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP) – embora não haja uma coincidência perfeita – ao criar um ambiente para que empresas ou indivíduos se financiem junto a outras empresas e indivíduos, materializando as obrigações assumidas em tokens registrados em uma base descentralizada, garantidos por direitos creditórios. Esse arranjo distancia-se das SEPs pois estas não podem ser coobrigadas nas operações e há restrições específicas na Resolução CMN nº 4.656/2018 que precisariam ser observadas.
Como de praxe, a inovação chega antes do direito. A despeito do jargão do mundo cripto e da diversidade de normas existentes, o que mais importa, no fim, é o risco que desejamos tratar:
a exposição de investidores a títulos fraudulentos ou sem a devida informação sobre os riscos da operação. Nem sempre as “caixinhas” existentes são suficientes, por isso é preciso manter a mente aberta e construir soluções de consenso entre o regulador e o mercado.
Se organizar direitinho, todo mundo ganha – inclusive o investidor.
*Isac Costa é sócio de Warde Advogados e professor do Ibmec e do Insper. Doutor (USP),
mestre (FGV) e bacharel (USP) em Direito e Engenheiro de Computação (ITA). Ex-Analista da
CVM, onde também atuou como assessor do Colegiado.

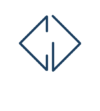

Deixe seu comentário