Nos últimos meses, diversos influenciadores foram acusados de envolvimento com apostas ilegais e lavagem de dinheiro. Independente do veredito, a cena em que a Dra. Deolane Bezerra é carregada nos braços após concessão de habeas corpus lembra, de certo modo, o momento em que Daenerys Targaryen é levantada pelos escravos libertos em Game of Thrones. Ou, então, um episódio mais singelo: a carreata em apoio ao Faraó dos Bitcoins pela sua libertação.
Penso que situações como essas ilustram a força do magnetismo exercido no público em geral por aqueles que têm carisma, retórica, (algumas?) ideias na cabeça e um celular na mão. Os gurus digitais têm um alcance outrora restrito aos grandes veículos de mídia, que sempre foram fortemente regulados e cujos conteúdos até mesmo já foram sujeitos à censura há não muito tempo.
A ordem jurídica assegura a liberdade de expressar ideias e nosso direito de crer no que quisermos para aliviar o sofrimento do dia a dia e manter a esperança de que algo pode melhorar em nossas vidas.
Todavia, se, de um lado, testemunhamos o florescimento de plataformas para consumo de informações, de outro, as ervas daninhas parecem comprometer a paisagem e a sobrevivência desse complexo ecossistema digital.
Nesse contexto, não surpreende a investida da AGU em tentar responsabilizar as plataformas pelos conteúdos publicados, com base em um dever de precaução, superando entendimento anterior sobre as regras do Marco Civil da Internet.
Enquanto continuamos a buscar soluções para evitar que o ruído nas redes inviabilize a conectividade que ajudou a criar a economia digital, gostaria de propor uma reflexão sobre um aspecto mais essencial de todo esse quadro. Gostaria de falar sobre a exploração (ou predação) da esperança alheia.
Influencers devem responder por danos decorrentes dos produtos que anunciam?
A proliferação das plataformas de apostas parece ser um fenômeno sem volta, como podemos depreender dos nomes nos estádios, dos patrocínios em camisas de times e das propagandas na internet e na TV. E há quem considere que aposta é um tipo de investimento. O total de apostadores supera o percentual de pessoas que utilizam os principais produtos de investimento do país.
Penso ser natural – e lícito – que influencers, capazes de direcionar enxames de seguidores a comprar certo produto, sejam contratados para divulgar os serviços de apostas, assim como celebridades são contratadas para protagonizar anúncios de bebidas alcoólicas e, há algum tempo, propagandas de cigarros. Mas começam a surgir questionamentos sobre a possibilidade de responsabilizar quem divulga certo produto pelos danos que eventualmente possa vir a causar, como demonstrado na ação contra Tom Brady, Giselle Bundchen e outras celebridades após o colapso da Exchange FTX.
Esse raciocínio pode causar certa perplexidade, pois quem aposta, compra certo produto ou investe em um instrumento de risco o faz porque quer. Em princípio, a decisão de um agente racional (que só existe nos livros de economia) ignora situações nas quais os anúncios enfatizam as vantagens e mascaram os riscos ou os relegam às letras miúdas dos Termos de Adesão raramente lidos.
A responsabilização da influenciadora acusada de matar um cliente após realizar uma sessão de peeling de fenol é um caso menos controvertido, afinal, não foi apenas um anúncio, mas a efetiva prestação do serviço. Mas, o que dizer da farmacêutica que vende cursos online da técnica que veio a ser proibida e cujo curso foi concluído pela influenciadora três dias antes da morte de seu cliente?
Ao transpor esta discussão para o mercado financeiro, surgem questões ainda mais complexas, dada a onipresença de cursos sobre como alcançar sua liberdade financeira, como economizar para chegar ao primeiro milhão e congêneres.
Mercados, cassinos e seitas
O sociólogo Ervin Goffman escreveu um livro cujo título é fascinante: “Manicômios, prisões e conventos”. Nessa obra, examina como essas entidades buscam controlar as pessoas por meio de técnicas de “mortificação do eu”. A padronização de vestimentas, a supressão da identidade, o isolamento e outras técnicas levaram o autor a cunhar o conceito de instituição total. Essa noção pode ser expandida para tentar descrever e compreender outros ambientes que buscam consolidar hierarquia e disciplina, como internatos escolares e academias militares.
De forma análoga, vislumbro semelhanças entre três ambientes destinados não exatamente a controlar pessoas como as instituições totais de Goffman, mas a influenciar as suas decisões com base na esperança de se livrar das dores quotidianas e criar uma sensação de pertencimento, especialmente no tocante às finanças pessoais.
Primeiro, os mercados financeiros, tomados aqui não na sua manifestação legítima de financiar a atividade empresarial e permitir a permuta de riscos entre os agentes econômicos. Trata-se da degeneração dos mercados, representada, por exemplo, no imaginário de filmes como “Wall Street: Poder e Cobiça” ou na série Billions ou, especialmente, na icônica cena de “O Lobo de Wall Street” em que a atividade de corretores é descrita como “fugazi”. Nesse contexto, a loucura dos mercados, especialmente em fases de mania, os aproxima dos manicômios de Goffman.
Segundo, cassinos (e plataformas de bets) podem se tornar prisões quando o vício em apostas se torna um problema de saúde pública que tem afinidade com o vício em redes sociais. Um vício potencializa o outro, fritando os neurônios já comprometidos por conta do estímulo excessivo decorrente das tecnologias.
Terceiro, os grupos de seguidores e alguns nichos constroem uma identidade e crenças tão fortes que não é raro contrastá-los com seitas, com seu idioma próprio, distanciamento de grupos com ideias diferentes e a dependência de certo guru, tido como inimputável. Se você está sufocado pelo status quo, é um alívio se sentir acolhido em um grupo que pensa diferente… até que este grupo se transforme em uma bolha intransigente e agressiva e você seja incapaz de perceber que está dizendo e fazendo coisas que jamais imaginou ser capaz de falar ou fazer.
No mercado financeiro, encontramos alguns desses gurus, a quem delegamos nossas decisões para não termos que pensar, mas o comportamento sectarista mais típico de seitas já foi apontado em holders de bitcoin e outros participantes do mercado de criptoativos, especialmente na crítica ferrenha a esse setor pelo Financial Times. Observamos, em alguma medida, uma espécie de teologia da prosperidade nas seitas de gurus financeiros, que ostentam nas redes o patrimônio supostamente obtido com sua capacidade de tomar decisões de investimentos (ou será que teria sido com o dinheiro de seus seguidores?).
À semelhança das instituições totais de Goffman – manicômios, prisões e conventos – penso que, no âmbito das finanças, temos instituições miragem representadas por mercados degenerados, cassinos e seitas em torno de gurus financeiros. Nesses casos, precisamos definir se é necessário intervir para evitar perdas irreversíveis e arrependimentos ou respeitar a liberdade de cada um.
Direito de ser tolo, mas não de ser feito de tolo
Por ora, a regulação para proteger consumidores e investidores foca na transparência, na tentativa de garantir informações suficientes, verdadeiras e adequadas a quem está sendo exposto a determinada oferta. Idealmente, os riscos também deveriam ser evidenciados. Mas o que fazer quando as pessoas agem como se estivessem hipnotizadas? Ou, o que é pior, quando estão desesperadas, seja por falta de alternativas ou pelo fascínio por certos influencers?
Não há respostas simples para problemas difíceis. Por ora, podemos pensar em medidas que, de algum modo, tentem mitigar a atuação impulsiva das pessoas, atenuando a influência dos influenciadores. Uma das práticas (irritantes) do marketing digital é a geração da sensação de escassez (oferta por tempo limitado), a apresentação de preços em parcelas (e não o desembolso total) e o desenvolvimento de um “medo de ficar de fora”, além de maximizar a facilidade da experiência de pagamento (alguém posta um vídeo com um produto, quero comprar agora com um clique!).
É verdade que as políticas de cancelamento e devolução podem ajudar em casos de arrependimento, mas o que dizer daqueles que delegam as suas decisões de investimento, por serem difíceis, a indivíduos totalmente despreparados e com interesses próprios? Seriam as ações de ressarcimento suficientes?
Eu adoraria concluir esse texto com o clichê de que é preciso investir em educação financeira, fazer com que as pessoas pensem por conta própria e outras verdades que já sabemos. Mas não vejo nenhum indício de que estejamos caminhando nesse sentido. Pelo contrário. Tudo está sendo simplificado, mastigado, facilitado não para a efetiva comodidade dos investidores, mas para explorar assimetrias de informação e, especialmente, a sua esperança de conseguir retornos financeiros.
Nesse cenário, mercados, cassinos e seitas se confundem e talvez o direito não seja capaz de resolver os problemas mencionados. Penso ser necessário calibrar os incentivos dos próprios influenciadores acerca do tipo de relação que desejam ter com seu público: se de parasitismo ou de mutualismo, se a criação de um reality show de ostentação para tentar demonstrar o seu sucesso ou a geração de conteúdo efetivamente libertador.
Se há um caminho mais fácil e que gera mais likes, engajamento e dinheiro e se a audiência prefere alimentar a esperança com miragem de uma liberdade financeira, sem a criação de obstáculos, todo influenciador tem incentivos para se tornar um predador de seus seguidores. O único freio existente, nesses casos, é a sua própria ética. E, como disse Bob Dylan, “money doesn’t talk, it swears”.
*Isac Costa é advogado, professor do Insper e da LegalBlocks. Doutor (USP), mestre (FGV) e bacharel (USP) em Direito e Engenheiro de Computação (ITA). Ex-Analista da CVM, onde também atuou como assessor do Colegiado.

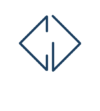

Deixe seu comentário